quinta-feira, dezembro 28, 2006
Top 10/2006
- O sabor da melancia, de Tsai Ming-Liang
- O céu de Suely, de Karim Aïnouz
- 2046 - Os segredos do amor, de Wong Kar-Wai
- Crime delicado, de Beto Brant
- O novo mundo, de Terrence Malick
- Amantes constantes, de Philippe Garrel
- Miami Vice, de Michael Mann
- Dália negra, de Brian De Palma
- Caché, de Michael Haneke
- O Homem-Urso, de Werner Herzog
* não está em ordem de preferência.
quinta-feira, dezembro 21, 2006
Um bom ano °

Max (Crowe) recebe de herança do tio (a única pessoa que ele diz ter amado) uma propriedade na Provença francesa (onde costumava passar as férias quando criança). O personagem pretende permanecer no Chateau tempo suficiente para vendê-lo, mas acaba se apaixonando, redescobrindo o valor da amizade, blá, blá blá... Ah... e sem nenhum decréscimo em sua gorda conta bancária.
Poderia se dizer que Crowe e Scott resolveram tirar umas férias dos projetos hollywoodianos do tipo “Gladiador”. O problema é que a mudança de ares não fez nada bem, seja ao ator, seja ao diretor. Crowe parece desconfortável, numa interpretação recheada de tiques cômicos, sem nenhum timing para a comédia, com uma suavidade de elefante. E o ator não é suficientemente canalha na primeira parte do filme, nem convincentemente amoroso em seu desfecho. Na verdade, todo o conflito fica meio vazio quando se percebe que o personagem não perde nada deixando a vida de “ex-canalha” londrino. Parece tudo muito fácil. Um milionário e seu dilema entre uma casa em Londres e um castelo no sul da França.
A montagem nunca foi mesmo o forte dos filmes de Scott (na minha opinião, a versão do produtor de “Blade runner” é mesmo melhor). E concordo plenamente com o Pedro Butcher que “Um bom ano” é uma busca desastrosa por elegância. O filme é longo, cenas das mais simples vêm num pacote com os mais diversos cortes e ângulos. A impressão é a de que o diretor pensa ser necessário dar uma forcinha à paisagem para convencer o espectador de sua beleza. E a câmera de Philippe Le Sourd não passa pela transformação de Max, não se contamina pela narrativa. Sempre no mesmo tom, a fotografia do filme não tenta nos mostrar a suposta e hierárquica discrepância entre a realidade financeira londrina e a realidade solidária francesa.
Acho assustadoramente exagerada a afirmação do Luiz Carlos Merten (Estadão) de que, em “Um bom ano”, Scott, por intermédio de referências a Proust, Bergman, e Tati, “vai muito além do retrato do cafajeste que se humaniza e consegue criar uma teoria de arte e vida”. Não entendo mesmo. O nome do cachorro realmente é Tati, e o filme parece querer alimentar comparações com as comédias de Howard Hawks, Cary Grant e Katherine Hepburn. Mas essas referências fazem um mal danado a “Um bom ano”.
Butcher também chamou atenção para o fato de “Um bom ano” se tratar de um projeto pessoalíssimo de Scott. Foi ele quem deu a idéia do livro ao amigo Peter Mayle, que daria luz ao filme. Ambos, aliás, têm casas e vinhedos na Provença. No entanto, paradoxalmente, não há entrega, tampouco propostas alternativas ao discurso oficial, aos modos convencionais do cinema. Assim fica mesmo difícil. É triste. Na filmografia de Scott, “Um bom ano” não é exceção, mas regra.
domingo, dezembro 17, 2006
Labirinto do Fauno ***

Para Del Toro, o fascismo (no caso o de Franco) é antes de tudo uma forma de perversão da inocência. O fascismo é a própria representação do horror, e assim sendo, possui em si um elemento essencial para a construção de fábulas adultas. Na verdade, as referências ao franquismo e toda a idéia do fabular como forma de resistência já existia em “A espinha do diabo”. Em ambos os longas o realizador faz uma combinação de drama histórico bem particular, mesclando melodrama com o cinema fantástico, e muito suspense. Entretanto, enquanto no filme de 2001, Del Toro sempre perdia a mão quando rumava na direção dos adultos, em “El labirinto” o cineasta alterna magistralmente as aventuras de Ofélia com a brutalidade da vida real de maneira que ambas dimensões se refletem e se influenciam mutuamente.
Em “Labirinto”, não há como separar a fábula da realidade. Del Toro parece usar o cinema fantástico como um instrumento para se lidar com a realidade, desnudando a fábula como uma ferramenta de mitificação política. É claro que há um aspecto de fuga nesse movimento. Mas não sei se a fábula seria realmente uma espécie de válvula de escape de um mundo violento. Acho que não é exatamente isso. Então, tendo a discordar do Cléber Eduardo quando ele diz que a fantasia seria uma forma de resistência/fuga à realidade, que haveria uma similaridade entre o refúgio da menina em sua imaginação e a guerrilha em sua luta contra Franco.
Um grande estúdio americano teria possivelmente insistido na supremacia da fantasia sobre a realidade – de preferência com os adultos se reencontrando com o lado mágico que perderam. Em “El labirinto” isso se dá de maneira diferente. Ofélia é quem terá de encontrar maturidade para reclamar seu espaço. Apesar do acesso à fantasia, a menina terá de aprender sobre as crueldades do mundo em que vive - num belo contra-exemplo à tentativa de esconder da criança a realidade dos campos de concentração em “A vida é bela”. No fim das contas, dois finais se apresentam. E o espectador não optará impunemente. Embora escolher a fantasia não seja não escolher a realidade (e vice-versa). Por fim, como bem aponto o Eduardo Valente, faz muito bem ao cinema afirmar a possibilidade de uma produção de gênero não hollywoodiana falada em espanhol.
sábado, dezembro 09, 2006
Amantes constantes *****

The Kinks
Philippe Garrel é uma anomalia da história do cinema francês. Considerado um dos maiores cineastas pós-nouvelle vague, Garrel faz cinema há quase 40 anos (seu primeiro trabalho data de 1967), mas permanece obscuro para a grande maioria. Defensor de um cinema de confissões pessoais e de contemplação, o cineasta recheia seus filmes com momentos de intimidade (sobretudo conversas e silêncios entre amigos e amantes), ligados em geral por elipses. Trabalhando sempre com baixíssimos orçamentos e totalmente ignorado pelo mainstream (pouquíssimos de seus filmes tiveram lançamento comercial no mundo anglo-saxão), Garrel é uma espécie de poeta solitário, filho de Jean-Luc Godard e François Truffaut e irmão de sangue de Jean Eustache. Por essas e outras, é muito bom ver o alcance que seu mais novo trabalho, “Amantes constantes” vem recebendo pelo mundo, abrindo um feliz precedente no cenário brasileiro.
O filme se divide em três partes. Na primeira, temos a narração silenciosa das manifestações estudantis de maio de 1968. François Dervieux (Louis Garrel, filho de Philippe e novo galã francês, numa atuação que nos lembra qualquer coisa do grande Jean-Pierre Léaud e sua malícia, seus gestos sintéticos e sua brutal conversão de emoções) e seus amigos percorrem uma Paris em chamas. Nos dois capítulos seguintes, ficamos com a ressaca - Garrel marca essa passagem de maneira sutil, porém significativamente simbólica: uma seqüência de festa ao som da banda The Kinks e do hit "This time tomorrow". Em 1969, François sai das ruas, integra uma república de artistas sustentada por um jovem mecenas, e se apaixona por Lilie (Clotilde Hesme). O que interessa a Garrel é como a vida de seus personagens retorna à normalidade, uma vez que a “revolução” que viria supostamente libertá-los já veio e já foi. No terceiro e último ato, a comunidade em torno do jovem mecenas, justificada por pura conveniência, se desfaz, e mesmo os signos da revolução pessoal parecem deslizar num vazio. Garrel se preocupa em apreender a experiência daquele tempo e entender o momento seguinte, as implicações da vida, do amor e da política. E em suas cerca de três horas, “Amantes constantes” nos alerta para a impossibilidade da permanência, para a “mudança” como uma força/realidade incontornável. Quando os personagens pareciam perto de algumas respostas, as perguntas já estavam mudando.
Concordo plenamente com o Inácio Araújo: “Amantes constantes” não tem como objetivo reencontrar o tom e o estilo da nouvelle vague. Embora exista essa proximidade, Garrel esboça um caminho na contramão da liberdade esperançosa e despreocupada dos primeiros Godards e Truffauts. O longa de Garrel mais parece um experimento disfarçado de cinema narrativo. Temos a belíssima fotografia em preto-e-branco de William Lubtchansky (fotografo de Jacques Rivette e Danièle Huillet/Jean-Marie Straub); closes à la Andy Warhol; uma estranha experiência do tempo (por vezes dilatado, por vezes acelerado através de elipses); planos que liberam qualquer tipo de entrada da parte do espectador. E quando a música de Jean-Claude Vannier (produtor de alguns álbuns de Serge Gainsbourg) irrompe (como em Godard) sobre as imagens, o “sentimento” ultrapassa a distância que a câmera mantém entre os personagens e a ação de maneira geral.
“Amantes constantes” é, sobretudo, um filme sobre jovens que optaram por amar o impossível, sobre a política. As manifestações, as revoltas de maio de 68 interiorizam paixão e esperanças nos personagens de “Amantes constantes”. É importante ressaltar que não há aqui um sentimento de nostalgia. Garrel não traça o retrato de uma grande geração. Por vezes é até irônico, quando, por exemplo, exibe seus personagens voltando para a casa paterna para almoçar a comida da mãe cenas depois das barricadas em chamas. Mas tampouco há condenação. Os personagens em ressaca de “Amantes constantes” não estão desesperados ou irritados, permanecem numa espécie de devaneio. Não se trata de causas e efeitos, mas de, digamos, energia. No entanto, aos poucos, o sonho parece se dissolver no cotidiano. Confrontados com o alto preço cobrado pela sociedade, François e Lilie desistem. Ela parte para Nova York. Ele opta por uma trágica alternativa. Como bem concluiu o crítico Marcelo Rezende, recusar a idéia de que política e utopia estão indissociavelmente atadas é estar “politicamente (logo, emocionalmente) morto”.
No fim das contas, vence a lógica concreta e corruptora do dinheiro, do sucesso. François se recusa a viver dessa maneira (e com o coração partido). Mas talvez essa não seja a resposta de Garrel. Pra mim, é evidente que o cineasta entende maio de 68 como uma derrota. No entanto, talvez o olhar de Garrel seja mais cético do que exatamente pessimista. “Amantes constantes” me parece uma tentativa de restabelecer o que maio de 68 teve de inquietante e inovador. E assim, o filme nos passa um otimismo estranho pelo fato mesmo de maio de 68 ter existido. “Amantes constantes” trata das inúmeras possibilidades de criação e de amor que brotaram de dentro desse cenário de espera, entre o sonho e a realidade, entre o ontem, o hoje, e o amanhã. Garrel sugere que talvez o que caracterize uma situação revolucionária seja menos uma possível tomada de poder, mas sua potência transformadora, seu alcance. E maio de 68 produziu efeitos que nem mesmo os que participaram do evento imaginaram. Como diria Richard Rorty: a data se tornou um momento emblemático “da gradativa disseminação da convicção de que não existem obstáculos à fraternidade humana, exceto nossa própria falta de disposição em fazer o que é preciso para conquistá-la”.
Entretanto, “Amantes Constantes” também projeta mágoas e desesperanças para o futuro. É também possível sair do cinema endossando a idéia bastante difundida de que esperanças utópicas estão hoje obsoletas. E antes de discordar, isso me preocupa. Sem dúvida, o filme de Garrel passa pela percepção do vazio de palavras de ordem das revoluções tradicionais. Finda a sessão, é difícil não olhar com uma certa desconfiança para a Revolução Russa, Chinesa ou Cubana, para termos como “proletariado”, “comunismo”, ou “socialismo”, para nomes como Trotski, Lenin ou Guevara. Na verdade, pra mim, crescido na década de 80, concepções de uma política macro, de uma teoria geral da opressão, não fazem muito sentido – ainda mais quando abordadas com os termos e nomes da frase precedente. O que não quer dizer que não haja mais espaço para a “esperança”. Talvez ela necessite simplesmente de uma nova roupagem. Lembro-me mais uma vez de Rorty e sua idéia de que talvez seja preciso abandonar a esperança profética em nome de uma esperança não fundamentada. Como diria o filósofo americano, pensamos um século XXI vazio e sem forma porque parecemos acostumados a pensar a história do mundo em termos escatológicos, com uma especial aversão (um certo constrangimento raivoso) a qualquer coisa "pequena". A lição que tiro de Garrel/Rorty/1968 é que os sonhos que alimentam eventos como o maio de 68 são a única coisa capaz de tornar suportáveis os horrores do século que se passou e os horrores previsíveis deste século. “A raça humana pode recuperar-se de qualquer desastre desde que conserve intactas suas esperanças”, diz Rorty. Concordo com ele.
quarta-feira, dezembro 06, 2006
Eureka *****

E assim começa “Eureka” (2000), filme magnífico do japonês Shinji Aoyama. Um filme sobre os efeitos imensuráveis sofridos por pessoas que “experienciaram” situações limite de violência. Um filme sobre a possibilidade da “cura”. E Aoyama nos apresenta um processo longo e vagaroso que talvez não tenha fim; filmado em CinemaScope num preto-e-branco sépia, seco, sem nenhum contrate. Um filme que se passa num estado entre o sonho e o acordar, num mundo de três horas e trinta e sete minutos que eu não queria que terminasse.
A onda em questão surge na forma de um seqüestro de um ônibus, deixando apenas três sobreviventes: Kozue e seu irmão Naoki (Aoi e Masaru Miyazaki), no caminho para a escola, e Makoto (Koji Yakusho), o motorista do ônibus. O filme que se segue não é mais do que o alastramento e a depuração da violência cometida/sofrida neste primeiro momento. As crianças perderam os pais, cortaram os laços com o mundo, não falam (comunicando-se entre si através de uma espécie de telepatia, por nós presenciada ocasionalmente por intermédio da voz off). Makoto perde a mulher, sofre de insônia, tem pesadelos constantes e acaba se tornando o principal suspeito de uma série de assassinatos.
A maior parte do longa se dá dois anos mais tarde, quando Makoto, depois de vagar sem destino desde o incidente, retorna à cidade e acaba se mudando para a casa dos agora órfãos Kozue e Naoki. Makoto pede “Desculpe” a todas as pessoas com quem se relaciona. É curioso como isso nos alerta para impossibilidade do contato, da troca entre o personagem e as pessoas que o rodeiam. Os únicos capazes de entendê-lo e de serem por ele entendidos são os irmãos. Os três dividirão a casa com um quarto personagem, Akihiko (Yoichiro Saito), primo das crianças, enviado pela família para cuidar delas e manter o olho gordo na herança. Aos poucos, Makoto se dá conta que a vida deles precisa de mudanças. A vida na pequena cidade tornou-se mais obstáculo do que um encorajamento. Os quatro embarcam numa viajem num ônibus comprado por Makoto.
Ele e as crianças experienciam o mundo de maneira diferente. Aoyama penetra neste mundo (a partir do qual todos os outros são como aliens), e filma “Eureka” lá de dentro. Ao invés de dramatizar o estado emocional em que se encontram os personagens, o filme o absorve. E isso talvez tenha menos a ver com uma possível intenção de fazer o espectador experimentar a mesma ausência de dados dos personagens, e mais com o enorme respeito que Aoyama nutre pela fragilidade de seus protagonistas, vulneráveis a qualquer convenção narrativa.
O curioso é como na viagem os personagens parecem ainda mais desligados do mundo, num movimento aparentemente paradoxal. E no fim do filme os personagens parecem bem piores do que quando começaram. Mas Aoyama imprime esperança no sofrimento deles. Nada mais real do que a dor, nos diz “Eureka”. Para Makoto, Kozue e Naoki “sentir” é uma vitória. Um primeiro passo da paralisia para se questionar valores que nos foram passados, reconsiderar a presença do próximo, reaprender a dar significado às coisas. Recomeçar não é fácil. Talvez seja difícil demais. Talvez seja tarde para certas coisas. Talvez alguns não consigam. Talvez alguns não mereçam. “Eureka” tem o tamanho destas perguntas.
domingo, dezembro 03, 2006
Cassavetes no CCBB
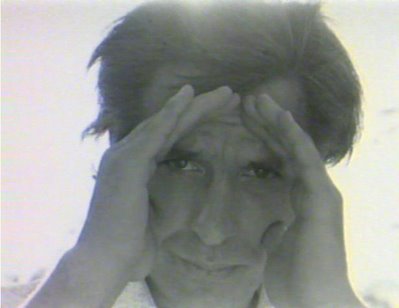
Mais do que uma autêntica alternativa estética e de produção para o cinema, John Cassavetes é um dos meus cineastas prediletos. Ele (re)aproximou o cinema da vida como ela é por nós vivida. Fundindo arte e vida numa unidade saturada de emoção, plano a plano. É um cinema que se revela aos poucos, num acúmulo de detalhes. Cada movimento, gesto, espirro, leva a história adiante. E assim, a mão do cineasta nasce de dentro da própria ação. E nós, espectadores, aprendemos a ver não mais a trama, os efeitos estilísticos e/ou narrativos, mas as pessoas.
As histórias de Cassavetes emanam dos personagens, de seus rostos, corpos e vozes. Para ele, são os atores e não o diretor as figuras mais importantes do cinema. Atuar é assumir uma persona até os limites da loucura ou da paixão, é instaurar um acontecimento. E as narrativas de Cassavetes não são o relato deste acontecimento, mas o próprio acontecimento, a aproximação deste acontecimento, o lugar onde este é chamado a produzir-se. No movimento imprevisível e problemático de seus filmes, este acontecimento decretado pelo ator (corpo, voz, intensidade) se torna real, poderoso, e atraente.
No entanto, é bom engrossar o coro recente de críticos de todo o mundo: Cassavetes é um inventor de formas. Não há sequer um aspecto estético ou narrativo que não tenha sido contaminado pela mão do cineasta. E apesar das aparências, seus filmes são exaustivamente roteirizados e ensaiados. Para Cassavetes, a liberdade/movimento/fluência que testemunhamos não vem exatamente do improviso ou do abandono da técnica. A revolução que “Shadows” (1961) desencadeou (e que ainda pode ser sentida) tem a ver com uma espécie de reinvenção das expectativas em torno de como um filme deve parecer, de como os atores devem se comportar.
Dito isso, calculem aí minha felicidade ao saber da mostra “Faces de Cassavetes”, no CCBB. Uma retrospectiva de 18 filmes (do dia 5 ao dia 17), incluindo todos os trabalhos dirigidos por Cassavetes. Os meus preferidos são “Shadows” (1961), “Faces” (1969), “Uma mulher sob influência” (1974) “The killing of a chinise bookie” (1976), e “Amantes” (1984). Gosto muito de “Glória” (1980) e “Maridos” (1970). Ainda não vi "Canção da esperança" (de 1961, um filme raro até mesmo nos States), "Openinh night" (de 1977, dizem ser muito bom), "Assim falou o amor" (de 1971, outro que dizem ser bom), e "Minha esperança é você" (de 1963, um longa que Cassavetes, por não ter tido direito ao corte final, tinha dificuldade em assumir como seu). E não gosto muito de "Big trouble" (1986), seu último trabalho.
Programação
05/12, terça
16h30 Sombras (Shadows)
18h30 Canção da esperança (Too late blues)
sessão seguida de debate
06/12, quarta
16h30 Os maridos (Husbands)
19h30 Assim falou o amor (Minnie and Moskowitz) - versão original com legendas em inglês
07/12, quinta
16h30 Canção da esperança (Too late blues)
18h30 Minha esperança é você (A child is waiting)
08/12, sexta
16h30 Uma mulher sob influência (A woman under the influence)
19h30 A morte de um bookmaker Chinês (The killing of a Chinese bookie)
09/12, sábado
19h Sombras (Shadows)
sessão seguida de debate
10/12, domingo
16h30 Gloria (Gloria)
19:00 Faces (Faces)
12/12, terça
16h30 Minha esperança é você (A child is waiting)
18h30 Os maridos (Husbands)
13/12, quarta
16h30 Noite de estréia (Opening night)
19h30 Um grande problema (Big trouble)
14/12, quinta
16h30 Amantes (Love streams)
19h30 Gloria (Gloria)
15/12, sexta
16h30 A morte de um bookmaker Chinês (The killing of a Chinese bookie)
18h30 Uma mulher sob influência (A woman under the influence)
16/12, sábado
19h Faces (Faces)
17/12, domingo
16h30 Um grande problema (Big trouble)
18h30 Noite de estréia (Opening night)
* No Brasil, apenas em VHS, estão disponíveis "Gloria", "Amantes" e "Big trouble" - na Cavídeo, no Rio, em DVD importado, constam todos os meus favoritos – com a exceção de “Amantes”.
Imperdível!!!
sábado, dezembro 02, 2006
Desabafo
Nestas duas últimas sextas acordei muito mal lendo algumas “críticas” de cinema do “O globo”. “Fonte da vida”, de Darren Aronofsky, e “Um bom ano”, de Ridley Scott, são dois dos piores filmes que vi nos últimos anos – escrevi sobre o primeiro por aqui e ainda falarei sobre o segundo, que também caiu nas graças do Luiz Carlos Mertem do Estadão. Aronofsky levou bonequinho aplaudindo de pé e Scott recebeu bonequinho aplaudindo, ambos por Rodrigo Fonseca. Enquanto isso, “Labirinto do Fauno”, belo filme de Guilhermo Del Toro, ficou com bonequinho dormindo sob acusações incompreensíveis de preciosismo e de excesso de melodrama e crueldade, por Ely Azeredo.
Mas o que me deixou nervoso mesmo foi o texto da Cora Rónai sobre o “Céu de Suely” publicado no sábado passado. O que foi aquilo? Mais parece uma coluna (desrespeitosa), recheada de gracejos e simplificações. “... bizarra sensação de viajar de volta aos tempos da nouvelle vague, uma onda que – ufa! – passou...”? “Será que, depois de oito horas de expediente, o cidadão que vai ao cinema para escapar da vida ainda quer uma overdose de monotonia?”? “Torce do fundo do coração, para que essa onda não pegue. Um exemplar da espécie já está de bom tamanho.”?
E olha que não é a primeira vez dela... enfim...