quinta-feira, dezembro 28, 2006
Top 10/2006
- O sabor da melancia, de Tsai Ming-Liang
- O céu de Suely, de Karim Aïnouz
- 2046 - Os segredos do amor, de Wong Kar-Wai
- Crime delicado, de Beto Brant
- O novo mundo, de Terrence Malick
- Amantes constantes, de Philippe Garrel
- Miami Vice, de Michael Mann
- Dália negra, de Brian De Palma
- Caché, de Michael Haneke
- O Homem-Urso, de Werner Herzog
* não está em ordem de preferência.
quinta-feira, dezembro 21, 2006
Um bom ano °

Max (Crowe) recebe de herança do tio (a única pessoa que ele diz ter amado) uma propriedade na Provença francesa (onde costumava passar as férias quando criança). O personagem pretende permanecer no Chateau tempo suficiente para vendê-lo, mas acaba se apaixonando, redescobrindo o valor da amizade, blá, blá blá... Ah... e sem nenhum decréscimo em sua gorda conta bancária.
Poderia se dizer que Crowe e Scott resolveram tirar umas férias dos projetos hollywoodianos do tipo “Gladiador”. O problema é que a mudança de ares não fez nada bem, seja ao ator, seja ao diretor. Crowe parece desconfortável, numa interpretação recheada de tiques cômicos, sem nenhum timing para a comédia, com uma suavidade de elefante. E o ator não é suficientemente canalha na primeira parte do filme, nem convincentemente amoroso em seu desfecho. Na verdade, todo o conflito fica meio vazio quando se percebe que o personagem não perde nada deixando a vida de “ex-canalha” londrino. Parece tudo muito fácil. Um milionário e seu dilema entre uma casa em Londres e um castelo no sul da França.
A montagem nunca foi mesmo o forte dos filmes de Scott (na minha opinião, a versão do produtor de “Blade runner” é mesmo melhor). E concordo plenamente com o Pedro Butcher que “Um bom ano” é uma busca desastrosa por elegância. O filme é longo, cenas das mais simples vêm num pacote com os mais diversos cortes e ângulos. A impressão é a de que o diretor pensa ser necessário dar uma forcinha à paisagem para convencer o espectador de sua beleza. E a câmera de Philippe Le Sourd não passa pela transformação de Max, não se contamina pela narrativa. Sempre no mesmo tom, a fotografia do filme não tenta nos mostrar a suposta e hierárquica discrepância entre a realidade financeira londrina e a realidade solidária francesa.
Acho assustadoramente exagerada a afirmação do Luiz Carlos Merten (Estadão) de que, em “Um bom ano”, Scott, por intermédio de referências a Proust, Bergman, e Tati, “vai muito além do retrato do cafajeste que se humaniza e consegue criar uma teoria de arte e vida”. Não entendo mesmo. O nome do cachorro realmente é Tati, e o filme parece querer alimentar comparações com as comédias de Howard Hawks, Cary Grant e Katherine Hepburn. Mas essas referências fazem um mal danado a “Um bom ano”.
Butcher também chamou atenção para o fato de “Um bom ano” se tratar de um projeto pessoalíssimo de Scott. Foi ele quem deu a idéia do livro ao amigo Peter Mayle, que daria luz ao filme. Ambos, aliás, têm casas e vinhedos na Provença. No entanto, paradoxalmente, não há entrega, tampouco propostas alternativas ao discurso oficial, aos modos convencionais do cinema. Assim fica mesmo difícil. É triste. Na filmografia de Scott, “Um bom ano” não é exceção, mas regra.
domingo, dezembro 17, 2006
Labirinto do Fauno ***

Para Del Toro, o fascismo (no caso o de Franco) é antes de tudo uma forma de perversão da inocência. O fascismo é a própria representação do horror, e assim sendo, possui em si um elemento essencial para a construção de fábulas adultas. Na verdade, as referências ao franquismo e toda a idéia do fabular como forma de resistência já existia em “A espinha do diabo”. Em ambos os longas o realizador faz uma combinação de drama histórico bem particular, mesclando melodrama com o cinema fantástico, e muito suspense. Entretanto, enquanto no filme de 2001, Del Toro sempre perdia a mão quando rumava na direção dos adultos, em “El labirinto” o cineasta alterna magistralmente as aventuras de Ofélia com a brutalidade da vida real de maneira que ambas dimensões se refletem e se influenciam mutuamente.
Em “Labirinto”, não há como separar a fábula da realidade. Del Toro parece usar o cinema fantástico como um instrumento para se lidar com a realidade, desnudando a fábula como uma ferramenta de mitificação política. É claro que há um aspecto de fuga nesse movimento. Mas não sei se a fábula seria realmente uma espécie de válvula de escape de um mundo violento. Acho que não é exatamente isso. Então, tendo a discordar do Cléber Eduardo quando ele diz que a fantasia seria uma forma de resistência/fuga à realidade, que haveria uma similaridade entre o refúgio da menina em sua imaginação e a guerrilha em sua luta contra Franco.
Um grande estúdio americano teria possivelmente insistido na supremacia da fantasia sobre a realidade – de preferência com os adultos se reencontrando com o lado mágico que perderam. Em “El labirinto” isso se dá de maneira diferente. Ofélia é quem terá de encontrar maturidade para reclamar seu espaço. Apesar do acesso à fantasia, a menina terá de aprender sobre as crueldades do mundo em que vive - num belo contra-exemplo à tentativa de esconder da criança a realidade dos campos de concentração em “A vida é bela”. No fim das contas, dois finais se apresentam. E o espectador não optará impunemente. Embora escolher a fantasia não seja não escolher a realidade (e vice-versa). Por fim, como bem aponto o Eduardo Valente, faz muito bem ao cinema afirmar a possibilidade de uma produção de gênero não hollywoodiana falada em espanhol.
sábado, dezembro 09, 2006
Amantes constantes *****

The Kinks
Philippe Garrel é uma anomalia da história do cinema francês. Considerado um dos maiores cineastas pós-nouvelle vague, Garrel faz cinema há quase 40 anos (seu primeiro trabalho data de 1967), mas permanece obscuro para a grande maioria. Defensor de um cinema de confissões pessoais e de contemplação, o cineasta recheia seus filmes com momentos de intimidade (sobretudo conversas e silêncios entre amigos e amantes), ligados em geral por elipses. Trabalhando sempre com baixíssimos orçamentos e totalmente ignorado pelo mainstream (pouquíssimos de seus filmes tiveram lançamento comercial no mundo anglo-saxão), Garrel é uma espécie de poeta solitário, filho de Jean-Luc Godard e François Truffaut e irmão de sangue de Jean Eustache. Por essas e outras, é muito bom ver o alcance que seu mais novo trabalho, “Amantes constantes” vem recebendo pelo mundo, abrindo um feliz precedente no cenário brasileiro.
O filme se divide em três partes. Na primeira, temos a narração silenciosa das manifestações estudantis de maio de 1968. François Dervieux (Louis Garrel, filho de Philippe e novo galã francês, numa atuação que nos lembra qualquer coisa do grande Jean-Pierre Léaud e sua malícia, seus gestos sintéticos e sua brutal conversão de emoções) e seus amigos percorrem uma Paris em chamas. Nos dois capítulos seguintes, ficamos com a ressaca - Garrel marca essa passagem de maneira sutil, porém significativamente simbólica: uma seqüência de festa ao som da banda The Kinks e do hit "This time tomorrow". Em 1969, François sai das ruas, integra uma república de artistas sustentada por um jovem mecenas, e se apaixona por Lilie (Clotilde Hesme). O que interessa a Garrel é como a vida de seus personagens retorna à normalidade, uma vez que a “revolução” que viria supostamente libertá-los já veio e já foi. No terceiro e último ato, a comunidade em torno do jovem mecenas, justificada por pura conveniência, se desfaz, e mesmo os signos da revolução pessoal parecem deslizar num vazio. Garrel se preocupa em apreender a experiência daquele tempo e entender o momento seguinte, as implicações da vida, do amor e da política. E em suas cerca de três horas, “Amantes constantes” nos alerta para a impossibilidade da permanência, para a “mudança” como uma força/realidade incontornável. Quando os personagens pareciam perto de algumas respostas, as perguntas já estavam mudando.
Concordo plenamente com o Inácio Araújo: “Amantes constantes” não tem como objetivo reencontrar o tom e o estilo da nouvelle vague. Embora exista essa proximidade, Garrel esboça um caminho na contramão da liberdade esperançosa e despreocupada dos primeiros Godards e Truffauts. O longa de Garrel mais parece um experimento disfarçado de cinema narrativo. Temos a belíssima fotografia em preto-e-branco de William Lubtchansky (fotografo de Jacques Rivette e Danièle Huillet/Jean-Marie Straub); closes à la Andy Warhol; uma estranha experiência do tempo (por vezes dilatado, por vezes acelerado através de elipses); planos que liberam qualquer tipo de entrada da parte do espectador. E quando a música de Jean-Claude Vannier (produtor de alguns álbuns de Serge Gainsbourg) irrompe (como em Godard) sobre as imagens, o “sentimento” ultrapassa a distância que a câmera mantém entre os personagens e a ação de maneira geral.
“Amantes constantes” é, sobretudo, um filme sobre jovens que optaram por amar o impossível, sobre a política. As manifestações, as revoltas de maio de 68 interiorizam paixão e esperanças nos personagens de “Amantes constantes”. É importante ressaltar que não há aqui um sentimento de nostalgia. Garrel não traça o retrato de uma grande geração. Por vezes é até irônico, quando, por exemplo, exibe seus personagens voltando para a casa paterna para almoçar a comida da mãe cenas depois das barricadas em chamas. Mas tampouco há condenação. Os personagens em ressaca de “Amantes constantes” não estão desesperados ou irritados, permanecem numa espécie de devaneio. Não se trata de causas e efeitos, mas de, digamos, energia. No entanto, aos poucos, o sonho parece se dissolver no cotidiano. Confrontados com o alto preço cobrado pela sociedade, François e Lilie desistem. Ela parte para Nova York. Ele opta por uma trágica alternativa. Como bem concluiu o crítico Marcelo Rezende, recusar a idéia de que política e utopia estão indissociavelmente atadas é estar “politicamente (logo, emocionalmente) morto”.
No fim das contas, vence a lógica concreta e corruptora do dinheiro, do sucesso. François se recusa a viver dessa maneira (e com o coração partido). Mas talvez essa não seja a resposta de Garrel. Pra mim, é evidente que o cineasta entende maio de 68 como uma derrota. No entanto, talvez o olhar de Garrel seja mais cético do que exatamente pessimista. “Amantes constantes” me parece uma tentativa de restabelecer o que maio de 68 teve de inquietante e inovador. E assim, o filme nos passa um otimismo estranho pelo fato mesmo de maio de 68 ter existido. “Amantes constantes” trata das inúmeras possibilidades de criação e de amor que brotaram de dentro desse cenário de espera, entre o sonho e a realidade, entre o ontem, o hoje, e o amanhã. Garrel sugere que talvez o que caracterize uma situação revolucionária seja menos uma possível tomada de poder, mas sua potência transformadora, seu alcance. E maio de 68 produziu efeitos que nem mesmo os que participaram do evento imaginaram. Como diria Richard Rorty: a data se tornou um momento emblemático “da gradativa disseminação da convicção de que não existem obstáculos à fraternidade humana, exceto nossa própria falta de disposição em fazer o que é preciso para conquistá-la”.
Entretanto, “Amantes Constantes” também projeta mágoas e desesperanças para o futuro. É também possível sair do cinema endossando a idéia bastante difundida de que esperanças utópicas estão hoje obsoletas. E antes de discordar, isso me preocupa. Sem dúvida, o filme de Garrel passa pela percepção do vazio de palavras de ordem das revoluções tradicionais. Finda a sessão, é difícil não olhar com uma certa desconfiança para a Revolução Russa, Chinesa ou Cubana, para termos como “proletariado”, “comunismo”, ou “socialismo”, para nomes como Trotski, Lenin ou Guevara. Na verdade, pra mim, crescido na década de 80, concepções de uma política macro, de uma teoria geral da opressão, não fazem muito sentido – ainda mais quando abordadas com os termos e nomes da frase precedente. O que não quer dizer que não haja mais espaço para a “esperança”. Talvez ela necessite simplesmente de uma nova roupagem. Lembro-me mais uma vez de Rorty e sua idéia de que talvez seja preciso abandonar a esperança profética em nome de uma esperança não fundamentada. Como diria o filósofo americano, pensamos um século XXI vazio e sem forma porque parecemos acostumados a pensar a história do mundo em termos escatológicos, com uma especial aversão (um certo constrangimento raivoso) a qualquer coisa "pequena". A lição que tiro de Garrel/Rorty/1968 é que os sonhos que alimentam eventos como o maio de 68 são a única coisa capaz de tornar suportáveis os horrores do século que se passou e os horrores previsíveis deste século. “A raça humana pode recuperar-se de qualquer desastre desde que conserve intactas suas esperanças”, diz Rorty. Concordo com ele.
quarta-feira, dezembro 06, 2006
Eureka *****

E assim começa “Eureka” (2000), filme magnífico do japonês Shinji Aoyama. Um filme sobre os efeitos imensuráveis sofridos por pessoas que “experienciaram” situações limite de violência. Um filme sobre a possibilidade da “cura”. E Aoyama nos apresenta um processo longo e vagaroso que talvez não tenha fim; filmado em CinemaScope num preto-e-branco sépia, seco, sem nenhum contrate. Um filme que se passa num estado entre o sonho e o acordar, num mundo de três horas e trinta e sete minutos que eu não queria que terminasse.
A onda em questão surge na forma de um seqüestro de um ônibus, deixando apenas três sobreviventes: Kozue e seu irmão Naoki (Aoi e Masaru Miyazaki), no caminho para a escola, e Makoto (Koji Yakusho), o motorista do ônibus. O filme que se segue não é mais do que o alastramento e a depuração da violência cometida/sofrida neste primeiro momento. As crianças perderam os pais, cortaram os laços com o mundo, não falam (comunicando-se entre si através de uma espécie de telepatia, por nós presenciada ocasionalmente por intermédio da voz off). Makoto perde a mulher, sofre de insônia, tem pesadelos constantes e acaba se tornando o principal suspeito de uma série de assassinatos.
A maior parte do longa se dá dois anos mais tarde, quando Makoto, depois de vagar sem destino desde o incidente, retorna à cidade e acaba se mudando para a casa dos agora órfãos Kozue e Naoki. Makoto pede “Desculpe” a todas as pessoas com quem se relaciona. É curioso como isso nos alerta para impossibilidade do contato, da troca entre o personagem e as pessoas que o rodeiam. Os únicos capazes de entendê-lo e de serem por ele entendidos são os irmãos. Os três dividirão a casa com um quarto personagem, Akihiko (Yoichiro Saito), primo das crianças, enviado pela família para cuidar delas e manter o olho gordo na herança. Aos poucos, Makoto se dá conta que a vida deles precisa de mudanças. A vida na pequena cidade tornou-se mais obstáculo do que um encorajamento. Os quatro embarcam numa viajem num ônibus comprado por Makoto.
Ele e as crianças experienciam o mundo de maneira diferente. Aoyama penetra neste mundo (a partir do qual todos os outros são como aliens), e filma “Eureka” lá de dentro. Ao invés de dramatizar o estado emocional em que se encontram os personagens, o filme o absorve. E isso talvez tenha menos a ver com uma possível intenção de fazer o espectador experimentar a mesma ausência de dados dos personagens, e mais com o enorme respeito que Aoyama nutre pela fragilidade de seus protagonistas, vulneráveis a qualquer convenção narrativa.
O curioso é como na viagem os personagens parecem ainda mais desligados do mundo, num movimento aparentemente paradoxal. E no fim do filme os personagens parecem bem piores do que quando começaram. Mas Aoyama imprime esperança no sofrimento deles. Nada mais real do que a dor, nos diz “Eureka”. Para Makoto, Kozue e Naoki “sentir” é uma vitória. Um primeiro passo da paralisia para se questionar valores que nos foram passados, reconsiderar a presença do próximo, reaprender a dar significado às coisas. Recomeçar não é fácil. Talvez seja difícil demais. Talvez seja tarde para certas coisas. Talvez alguns não consigam. Talvez alguns não mereçam. “Eureka” tem o tamanho destas perguntas.
domingo, dezembro 03, 2006
Cassavetes no CCBB
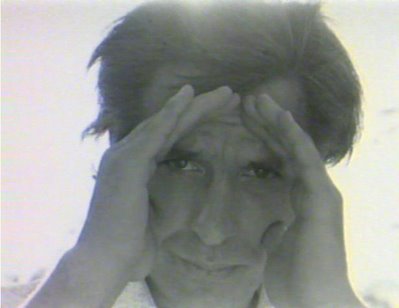
Mais do que uma autêntica alternativa estética e de produção para o cinema, John Cassavetes é um dos meus cineastas prediletos. Ele (re)aproximou o cinema da vida como ela é por nós vivida. Fundindo arte e vida numa unidade saturada de emoção, plano a plano. É um cinema que se revela aos poucos, num acúmulo de detalhes. Cada movimento, gesto, espirro, leva a história adiante. E assim, a mão do cineasta nasce de dentro da própria ação. E nós, espectadores, aprendemos a ver não mais a trama, os efeitos estilísticos e/ou narrativos, mas as pessoas.
As histórias de Cassavetes emanam dos personagens, de seus rostos, corpos e vozes. Para ele, são os atores e não o diretor as figuras mais importantes do cinema. Atuar é assumir uma persona até os limites da loucura ou da paixão, é instaurar um acontecimento. E as narrativas de Cassavetes não são o relato deste acontecimento, mas o próprio acontecimento, a aproximação deste acontecimento, o lugar onde este é chamado a produzir-se. No movimento imprevisível e problemático de seus filmes, este acontecimento decretado pelo ator (corpo, voz, intensidade) se torna real, poderoso, e atraente.
No entanto, é bom engrossar o coro recente de críticos de todo o mundo: Cassavetes é um inventor de formas. Não há sequer um aspecto estético ou narrativo que não tenha sido contaminado pela mão do cineasta. E apesar das aparências, seus filmes são exaustivamente roteirizados e ensaiados. Para Cassavetes, a liberdade/movimento/fluência que testemunhamos não vem exatamente do improviso ou do abandono da técnica. A revolução que “Shadows” (1961) desencadeou (e que ainda pode ser sentida) tem a ver com uma espécie de reinvenção das expectativas em torno de como um filme deve parecer, de como os atores devem se comportar.
Dito isso, calculem aí minha felicidade ao saber da mostra “Faces de Cassavetes”, no CCBB. Uma retrospectiva de 18 filmes (do dia 5 ao dia 17), incluindo todos os trabalhos dirigidos por Cassavetes. Os meus preferidos são “Shadows” (1961), “Faces” (1969), “Uma mulher sob influência” (1974) “The killing of a chinise bookie” (1976), e “Amantes” (1984). Gosto muito de “Glória” (1980) e “Maridos” (1970). Ainda não vi "Canção da esperança" (de 1961, um filme raro até mesmo nos States), "Openinh night" (de 1977, dizem ser muito bom), "Assim falou o amor" (de 1971, outro que dizem ser bom), e "Minha esperança é você" (de 1963, um longa que Cassavetes, por não ter tido direito ao corte final, tinha dificuldade em assumir como seu). E não gosto muito de "Big trouble" (1986), seu último trabalho.
Programação
05/12, terça
16h30 Sombras (Shadows)
18h30 Canção da esperança (Too late blues)
sessão seguida de debate
06/12, quarta
16h30 Os maridos (Husbands)
19h30 Assim falou o amor (Minnie and Moskowitz) - versão original com legendas em inglês
07/12, quinta
16h30 Canção da esperança (Too late blues)
18h30 Minha esperança é você (A child is waiting)
08/12, sexta
16h30 Uma mulher sob influência (A woman under the influence)
19h30 A morte de um bookmaker Chinês (The killing of a Chinese bookie)
09/12, sábado
19h Sombras (Shadows)
sessão seguida de debate
10/12, domingo
16h30 Gloria (Gloria)
19:00 Faces (Faces)
12/12, terça
16h30 Minha esperança é você (A child is waiting)
18h30 Os maridos (Husbands)
13/12, quarta
16h30 Noite de estréia (Opening night)
19h30 Um grande problema (Big trouble)
14/12, quinta
16h30 Amantes (Love streams)
19h30 Gloria (Gloria)
15/12, sexta
16h30 A morte de um bookmaker Chinês (The killing of a Chinese bookie)
18h30 Uma mulher sob influência (A woman under the influence)
16/12, sábado
19h Faces (Faces)
17/12, domingo
16h30 Um grande problema (Big trouble)
18h30 Noite de estréia (Opening night)
* No Brasil, apenas em VHS, estão disponíveis "Gloria", "Amantes" e "Big trouble" - na Cavídeo, no Rio, em DVD importado, constam todos os meus favoritos – com a exceção de “Amantes”.
Imperdível!!!
sábado, dezembro 02, 2006
Desabafo
Nestas duas últimas sextas acordei muito mal lendo algumas “críticas” de cinema do “O globo”. “Fonte da vida”, de Darren Aronofsky, e “Um bom ano”, de Ridley Scott, são dois dos piores filmes que vi nos últimos anos – escrevi sobre o primeiro por aqui e ainda falarei sobre o segundo, que também caiu nas graças do Luiz Carlos Mertem do Estadão. Aronofsky levou bonequinho aplaudindo de pé e Scott recebeu bonequinho aplaudindo, ambos por Rodrigo Fonseca. Enquanto isso, “Labirinto do Fauno”, belo filme de Guilhermo Del Toro, ficou com bonequinho dormindo sob acusações incompreensíveis de preciosismo e de excesso de melodrama e crueldade, por Ely Azeredo.
Mas o que me deixou nervoso mesmo foi o texto da Cora Rónai sobre o “Céu de Suely” publicado no sábado passado. O que foi aquilo? Mais parece uma coluna (desrespeitosa), recheada de gracejos e simplificações. “... bizarra sensação de viajar de volta aos tempos da nouvelle vague, uma onda que – ufa! – passou...”? “Será que, depois de oito horas de expediente, o cidadão que vai ao cinema para escapar da vida ainda quer uma overdose de monotonia?”? “Torce do fundo do coração, para que essa onda não pegue. Um exemplar da espécie já está de bom tamanho.”?
E olha que não é a primeira vez dela... enfim...
terça-feira, novembro 28, 2006
Filmes em preto-e-branco
São poucos filmes, mas alguns deles são excelentes. É o caso de “Touro indomável” (1980), do Scorsese, “Gente de Sicília” (2000), de Jean-Marie Straub e Danièle Huillet, e “Estranhos no paraíso” (1984), do Jarmusch. “Eureka” (2000), do japonês Shinji Aoyama - não vi o filme, mas gostei muito de “Meu Deus, Meus Deus, por que me abandonaste?” (2005) – é pra muitos obra-prima. Tem também Truffaut (“De repente num domingo”, 1983), Woody Allen (“Celebridades”, 1998), Walter Salles (“Terra estrangeira”, 1995), e Adrián Caetano (“Bolívia”, 2001).
Quarta (29),
15h – “Não se mexa, morra, ressuscite”, de Vitali Kanevsky
17h - “No fim da noite”, de Keith McNally
19h - “Aconteceu perto da sua casa”, de Remy Belvaux
Quinta (30),
15h – “Touro indomável”, de Martin Scorsese
17h – “Estranhos no paraíso”, de Jim Jarmusch
19h – “Até já”, de Benôit Jacquot
Sexta (1)
15h – “Eureka”, de Shinji Aoyama
17h – “Terra estrangeira”, de Walter Salles
19h – “Bolívia”, de Adrián Caetano
Sábado (2)
15h – “Gente da Sicília”, de Jean-Marie Straub e Danièle Huillet
17h – “De repente num domingo”, de François Truffaut
19h – “Celebridades”, de Woody Allen
Domingo (3)
15h – “Aconteceu perto da sua casa”, de Remy Belvaux
17h – “Não se mexa, morra, ressuscite”, de Vitali Kanevsky
19h - “No fim da noite”, de Keith McNally
domingo, novembro 26, 2006
Os infiltrados ***

Trata-se de um projeto com fins comerciais, mas Scorsese é famoso por sua capacidade de adequar e negociar seu cinema com os interesses dos grandes estúdios. Na verdade, percebe-se em “Os infiltrados” o encerramento de uma trilogia sobre a violência incrustada na fundação dos Estados Unidos. Enquanto “Gangues de Nova York” delineava o nascimento da nação e “O aviador” retratava a ascensão e ápice do país, Scorsese transformou/ampliou o jogo de máscaras verdadeiras de “Conflitos internos” num relato sobre a queda trágica do Estado norte-americano (como diz um personagem do filme, “O que será desse país se todos se odeiam?!”). E logo de cara, num prólogo à base de Rolling Stones, o cineasta expõe suas marcas registradas. Condizente com uma filmografia pontuada por tensão reprimida e explosões de violência, o filme instaura um clima de paranóia urbana num tom extremamente seco, imune a qualquer envolvimento emocional, com o espectador sempre um passo na frente dos personagens.
Em “Os infiltrados”, Scorsese trabalha fundamentalmente com o paralelismo entre os criminosos e os policiais. Aqui não há outro espaço que não o dos criminosos e dos policiais. E Mocinhos e bandidos são de certa maneira uma única e mesma coisa. Entre realidade e aparência, o filme esboça uma questão particular à contemporaneidade. Nossas subjetividades e identidades, na medida em que se afastam da questão moderna que privilegiava a profundidade e a interioridade como dimensões autênticas e verdadeiras, parecem não mais obedecer à lógica que associa a aparência e a superficialidade aos domínios do falso e da manipulação.
É também curioso observar três ocorrências na obra do Scorsese que se tornaram ainda mais explicitas em seus últimos três filmes. Primeiro, cenas testemunhadas por crianças que funcionam talvez não como trauma, mas como uma espécie de núcleo da identidade do personagem (a seqüência inicial do personagem de Matt Damon ainda criança). Segundo, a presença de toda uma simbologia católica (nunca se perde a oportunidade de se chamar um padre de pederasta e é interessante quando o longa associa a figura do Costello a uma idéia cristã). Terceiro, alegorias servindo como um instrumento para estender o universo do filme até nosso presente geopolítico (a cena final do rato na frente da Assembléia Legislativa). Mas na minha opinião, dentre estes três filmes mais recentes, “Os infiltrados” é o mais problemático na realização dessas três ocorrências.
Fielmente adaptado do roteiro de “Conflitos internos” por William Monahan, “Os infiltrados” não se sustenta muito bem numa comparação com o original de Hong Kong. Enquanto as interpretações coadjuvantes (em especial as de Mark Wahlberg e Alec Baldwin) colaboram para a construção do universo no qual Scorsese e Monahan inserem a história, os protagonistas Matt Damon e Leonardo DiCaprio estão apenas corretos, e nem de longe lembram as atuações no original chinês de Andy Lau e Tony Leung. Pra mim, “os infiltrados” desanda quando o cineasta tenta uma investigação mais a fundo dos personagens, envoltos por uma bagagem psicológica de ausência paterna pra lá de estranha e ambígua. Os dilemas morais pelos quais passam os personagens estão muito melhor delimitados no original, que trabalhava no confronto entre o dever e a lealdade, num estado de espírito insuportável. E se “Conflitos internos” alcançava um certo tom épico, apesar de permanecer econômico e nenhum pouco grandioso, a versão americana tem 50 minutos a mais em sua duração, e apresenta uma série de “problemas”, além da inserção totalmente desnecessária de um trio romântico, talvez a porção “grandes estúdios” do longa.
É bem verdade que os mais recentes trabalhos do realizador parecem aderir a um ritmo mais acelerado, no que talvez seja uma opção consciente de Scorsese para dar vazão a seu processo de pensar o cinema. Em sua primeira metade, “Os infiltrados” é um exercício virtuoso de montagem paralela - Scorsese e Thelma Schoonmaker negociam nossa atenção entre três ou quatro ações paralelas. E por vezes, Schoonmaker parece sabotar mesmo o filme, caminhando de maneira rápida (impaciente?) pelas seqüências (dentro de seqüências). Há também uma certa desproporção na duração das cenas – enquanto as seqüências envolvendo o trio amoroso duram alguns minutos, as que encenam o ingresso de DiCaprio na organização criminosa parecem pedir mais tempo. A fotografia de Michael Balhaus também traz um polimento, uma higiene que talvez não faça jus ao longa. Em “Os infiltrados”, Scorsese não parece se equilibrar muito bem entre a narração, a política, a atmosfera, e o personagem.
Em miúdos, em “Os infiltrados” não flagrei a mesma paixão de “Gangues de Nova York” e “O aviador”, mas vi as mesmas irregularidades. Scorsese não vive de maneira nenhuma uma decadência, mas seus trabalhos mais recentes, pelo menos pra mim, estão muito aquém de suas grandes obras.
domingo, novembro 19, 2006
Volver ***

Enquanto “Má educação” (2004) parecia uma tentativa de retornar aos transgressores, irresponsáveis e promíscuos anos 80 de “A lei do desejo” (1986), “Volver” se revela uma experiência completamente diferente (apesar de não repetir o desempenho magistral do trio consecutivo de obras primas, “Carne trêmula”, “Tudo sobre minha mãe”, e “Fale com ela”), marcando uma série de retornos (ao universo feminino, à terra natal de Almodóvar, a volta de Carmem Maura ...) num tom, digamos, mais discreto, mas com a mesma intensidade. Almodóvar, como o título demarca, está interessado em voltar ao passado, revisitando lugares, atores, temas e obsessões – “Volver” também se refere a um tango que ficou famoso na voz de Carlos Gardel e que é cantada pela personagem de Cruz numa das seqüências mais belas do longa. Na verdade, todas os desenvolvimentos do filme são operações “de volta”, recomeços.
Em “Volver” é evidente a maestria de Almodóvar na condução da narrativa, cada vez mais simples. A abertura do filme, um longo plano-seqüência mostrando um grupo de mulheres arrumando sepulturas em um cemitério, revela o enorme refinamento adquirido pela mise-en-scène do realizador. Através de um travelling lateral, o diretor registra um gesto ancestral de culto aos mortos e concede às imagens um enorme poder de sugestão e muito mistério. A seriedade do ritual é logo suplantada, ou melhor, passa a conviver com a demarcação das relações entre os personagens - neste sentido, é curioso como Almodóvar parece dar mais ênfase ao registro do cotidiano dos personagens; e apesar de estar presente, a dimensão despudoradamente melodramática do cineasta se dilui na direção da comédia. Aos poucos, Almodóvar vai caminhando por sobre uma tênue linha entre a vida e a morte, numa mistura tipicamente sua de honestidade e perversidade, que torna a esperança possível nos lugares mais improváveis. E o cineasta consegue imprimir a co-existência dos vivos com mortos com uma naturalidade impressionante, o que leva o espectador a um estranho estado de sonho.
Amodóvar, como ele mesmo diz, é um ladrão de filmes de outros realizadores. Em determinado momento de “Volver”, a personagem de Maura assiste “Belíssima” (1951), de Luchino Visconti. Essa será a chave para entender o filme e sua protagonista, uma variação almodovariana de Anna Magnani. Contudo, neste seu mais novo trabalho, parece ser o próprio Amodóvar a ser o grande usurpado. “Volver” segue na trilha primeiramente esboçada pelo ótimo “A flor do meu segredo”. Na verdade, temos neste filme a própria trama de “Volver”. Leo, a personagem vivida por Marisa Paredes, é uma escritora em plena crise. Ela tenta novos rumos com a história de uma mãe que descobre que sua filha matou o pai quando este tentava estuprá-la, e esconde o corpo do marido no freezer do restaurante abandonado ao lado de sua casa. O romance é recusado pela editora, roubado pelo filho da empregada, e vira projeto de filme de Bigas Lunas. Como diz a personagem, “A vida é cruel, paradoxal, imprevisível, e, às vezes, justa”.
Em resumo, “Volver” não é obra-prima, mas uma espécie de refilmagem, de reconstituição de alguns filmes de Almodóvar, que reafirma estar em plena forma. O cineasta confessou no pressbook do filme um sentimento de dever cumprido, de página virada, que o acompanhou por toda a feitura do longa. Talvez “Volver” tenha aberto caminhos. Resta saber como será o próximo passo.
sábado, novembro 18, 2006
Samuel Fuller no MAM do Rio
Hoje, sábado, às 16h, dois grandes documentários da fase de ouro do Globo Repórter. “O último dia de lampião” (1972), de Maurice Capovilla, e “Retrato de classe” (1977), de Gregório Bacic. Às 18h, um filme um tanto raro do mestre Samuel Fuller. “Ladrões do Amanhecer” (1984), um noir, com participações especiais de Claude Chabrol e do próprio Fuller.
Domingo, às 16h, outros dois importantíssimos documentários do Globo Repórter. “Teodorico, o Imperador do Sertão” (1978), de Eduardo Coutinho, e “Wilsinho Galiléia” (1978), de João Batista de Andrade. E às 18h, “Tigrero, um filme que nunca foi feito” (1994). Trata-se de um longa que seria realizado por Fuller no centro-oeste brasileiro na década de 1950. 40 anos depois, Fuller empreende a mesma viagem pelo Mato Grosso em companhia de Jim Jarmusch e com a direção de Mika Kaurismäki.
terça-feira, novembro 07, 2006
As leis de família ***

Na trama, Ariel Perelman (Hendler) é um advogado como seu pai. No entanto, são completamente diferentes. Enquanto o primeiro é advogado público e professor numa faculdade, o segundo representa diversos clientes, incluindo alguns pequenos criminosos, fazendo uso de um estilo pra lá de polêmico. O filme acompanha a relação dos Perelmans e testemunha o casamento de Ariel e o nascimento de seu filho. Em meio a essas mudanças, Perelman pai passa a agir de maneira estranha e tenta se aproximar do filho, que, aos poucos vai deixando desvanecer sua figura amedrontada.
Acredito que um dos trunfos do filme é não insistir na condição de trauma, central em “O abraço partido” (2004). Em “As leis de família” os traumas foram aos poucos dissolvidos no cotidiano. E Burman apresenta a vida cotidiana como algo intrinsecamente imprevisível. Embora algumas pistas sejam jogadas ao longo do filme, seus personagens vivem num permanente estado de incertezas. Aqui não há um embate entre pai e filho, mas observação e reflexão da parte de ambos. Assim sendo, aqueles jump cuts e câmera na mão frenética que me incomodaram um pouco em “O abraço partido” deram lugar a um olhar mais contemplativo e uma continuidade espacial mais suave.
Perelman Jr. não quer ser igual ao pai, nem mesmo seguir seus passos. Mas quanto mais o protagonista tenta se distanciar do pai, mais a ele o personagem se assemelha. Como viver/escapar da inevitável condição de filho? Será que existe algo no filho que transcende o pai? Talvez tornar-se pai ele mesmo seja uma solução. Ou será que, ao contrario, apenas complexifica a questão. “As leis de família” é filme que fala dessas opções que a vida nos leva inevitavelmente a tomar na direção de uma identidade.
Edmond *

Na trama, Edmond Burke (William H. Macy) é um executivo entediado, que, após uma pequena visita a uma cigana, decide confrontar o vazio de sua vida e de seu casamento. O personagem larga tudo e sai à noite em busca de fortes emoções, adentrando o submundo da prostituição de Nova York, e entrando num processo crescente de loucura.
“Edmond” é uma viagem ao estado de insanidade de seu protagonista, recheado por indisfarçáveis preconceitos e uma visão, no mínimo, ingênua da realidade. William H. Macy é um ótimo ator, mas o protagonista é simplesmente insuportável. Não dá para simpatizar com o personagem, sua dor e sofrimento – que dirá com sua revolta e desilusões. Como de costume, o texto de Mamet rende alguns bons momentos. No entanto, “Edmond” é de uma impressionante preguiça “diretorial”. Gordon deu definitivamente um passo pra trás neste filme, todo ele encenado com uma frieza que nada mais surte no espectador do que total indiferença. As imagens mais parecem muletas, constrangidas em relação ao texto. Aos poucos, “Edmond” vai abandonando o clima de farsa e assume um tom pra lá de ambicioso. O longa parece querer se legitimar com reflexões filosóficas pra lá de artificiais (“Edmond” não é nada mais do que um ácido reducionismo), e para as quais as imagens nada acrescentam.
segunda-feira, novembro 06, 2006
Moniz Vianna no Criticos.com
Enfim... Acho extremamente importante ler argumentos (ainda mais os que contam com a qualidade da escrita de Moniz) contrários ao seu. Trata-se de um exercício fundamental. Mas não dá pra levar a sério o que Moniz diz a respeito do cinema atual. Pelo menos, eu não consigo. Esse discurso melancólico da “morte do cinema”, da “decadência do cinema”, da “perda da magia cinematográfica, é muito chato. Em suas relações com a sétima arte, Moniz envelheceu mal. A questão é que não me parece que ele saiba realmente do que está falando. O cinema contemporâneo é surpreendentemente variado e rico. Cineastas de todo o mundo (Claire Denis, Abbas Kiarostami, Hou-Hsiao-Hsien, Hong Sang-soo, Tsai Ming-Liang, Edward Yang, Karim Aïnouz, Lucrecia Martel, Bela Tarr, Arnauld Desplechin, Olivier Assayas, David Gordon Green, Gus Van Sant, Manoel de Oliveira, Pedro Costa, Apichatpong Weerasethakul, Jia Zhang-Ke, Abel Ferrara, Nanni Moretti, Wes Anderson, Paul Thomas Anderson, Kiyoshi Kurosawa, João César Monteiro...) estão realizando filmes extraordinários, que, de certa maneira, se equivalem aos clássicos do passado. Mais do que isso, diretores esquecidos no passado estão sendo repensados, e novas fronteiras (entre gêneros, entre as artes) estão sendo transgredidas/formuladas – neste sentido, recomendo veementemente a leitura do livro “Movie Mutations”.
domingo, novembro 05, 2006
Dia noite, dia noite **

As motivações da jovem permanecem obscuras e ambíguas. Não há drama pessoal, tampouco uma convicção política ou religiosa. Loktev despe "Dia noite, dia noite" de qualquer acepção política, religiosa e/ou psicológica. De fato, até a dimensão existencial é aqui meio nebulosa. Loktev se abstém de moralismos e sentimentos, e mantém sua câmera colada em sua anônima protagonista (numa bela interpretação da estreante Luisa Williams). A cineasta está também obviamente interessada no acúmulo de detalhes/gestos humanos que a personagem colhe ao longo da Times Square e como esses pequenos momentos/encontros afetam sua decisão aparentemente sem volta.
Como disse, o filme não está certamente atrás de motivações, mas busca transparência neste registro de auto-destruição, de auto-esfalecimento do ser. Pra mim, isso é uma grande questão. Em "Paradise now", por exemplo, Hany Abu-Assad desloca a saga do terrorismo palestino para o campo da política, questionando, inclusive, o aspecto religioso - pintado por nós ocidentais como talvez o principal. Agora, qual é exatamente o conflito em “Dia noite, dia noite”? Não consigo acreditar na personagem. Não é que o longa tenha que apontar as razões de sua protagonista, mas é preciso que ela as tenha. Não me parece ser o caso aqui. E aí então, todo o exercício de estilo “verídico” de linguagem me pareceu gratuito. Loktev quer nos convencer da realidade do que não vimos, e seu estilo busca um detalhamento extremo, parecendo, por vezes, almejar uma posição de autoridade meio autoritária. Em “Vôo United”, Paul Greengrass também traz essa linguagem documental, mas o filme tem um tom meio de terror, pontuado pela certeza pulsante da morte inevitável. Através da captação da ação em tempo real, Greengrass trabalha com uma estética de perplexidade que faz o espectador remexer na cadeira. Diferente de Loktev e “Dia noite, dia noite”, o cineasta trabalha na chave da reconstituição/reconstrução/dramatização, propondo uma série de questões sobre as relações da encenação com a realidade.
Proibido proibir *

A trama de “Proibido proibir” é centrada num trio de universitários cariocas. Paulo (Caio Blatt), que estuda Medicina, é o mais largado. Leon (Alexandre Rodrigues), seu companheiro de peito, com quem divide a casa, cursa ciências. Letícia (Maria Flor), estudante de Arquitetura, é a namorada de Leon. Os três, além dos dilemas morais e éticos decorrentes de um triângulo amoroso latente, mas não consumado, acabam vivendo uma experiência trágica ao tentarem ajudar uma paciente do Hospital Universitário e seus filhos.
Há muitas boas idéias e intenções. Duran tenta instaurar uma atmosfera de descobertas típica dessa idade, e procura confrontar esse clima com um mundo de destinos já traçados. E “Proibido proibir” lida com uma juventude que não estamos acostumados a ver no cinema nacional. Em primeiro lugar, temos a universidade como espaço físico e como um período determinado da vida dos personagens. Em segundo lugar, é muito gratificante ver o subúrbio carioca estrelando o longa.
Parece-me que Duran quis mostrar que o jovem de hoje pensa. Mas este olhar de dentro que o cineasta tentou empreender não me convenceu. A juventude de “Proibido proibir” não me cativou nenhum pouco, e não me vi representado nela. O longa me deixou com a impressão de um retrato pouco animador dessa juventude, ora idealista em demasia, ora alienada. O negócio fica ainda mais complicado quando o filme aos poucos assume uma dimensão de denuncia, com uma subtrama policial. Em determinados momentos, “Proibido Proibir” parece ansioso em nos vender um discurso politizado, autêntico, e, sobretudo, jovem. Entretanto, desta ânsia surge um efeito um tanto constrangedor, pontuado por clichês nos diálogos, pela atuação de Alexandre Rodrigues (muito inferior a Maria Rosa e Caio Blat), e por um realismo meio ingênuo. Na verdade, algumas seqüências são muito mal filmadas (toda a tentativa de fuga do menino), ou simplesmente desnecessárias (os planos subjetivos do personagem de Blat doidão).
Sonho de peixe ***

Inicialmente, o filme trava uma aproximação com a pequena comunidade de pescadores. Um processo pontuado por detalhes mínimos como uma pelada na praia, a família reunida na frente da TV, e o trabalho, em suas mais diversas fases, da pescaria. Um exercício desenvolvido com muita naturalidade através da câmera na mão, e de um rigoroso trabalho na faixa sonora. A montagem rouba falas e diálogos com técnicas que lembram o documentário do inglês John Grierson. Aos poucos, Mikhanovsky consegue imprimir o tempo do vilarejo, e torna nossa, a mesma fascinação que o fez rodar este filme.
Mas até aonde vai a fascinação hipnótica Mikhanovsky? “Sonho de peixe” caminha sem ela? No fim das contas, a trama se alonga talvez um pouco demais. A impressão é a de que Mikhanovsky não quer terminar de contar a história. Apesar dos não-atores imprimirem altos níveis de autenticidade e carisma (em especial o protagonista), por vezes falta mesmo talento (ou experiência). Neste sentido, alguns problemas de roteiro e na direção dos atores se fazem sentir. É aquela diferença crucial entre dizer “para mim” ou “pra mim”, entre “vamos embora” e “vambora”. Alguns diálogos parecem lidos, forçados em certos momentos. Problemas que não estão à altura das qualidades de “Sonhos de peixe”.
Transe **

Villaverde joga o espectador num mundo entre o sonho e a mais seca realidade. Há uma sensação de avassaladora incompreensão (alimentada pelos diferentes idiomas que a protagonista não fala e dos comportamentos sociais que ela não conhece) que faz muito bem ao longa. “Transe” é uma experiência essencialmente formal. E o talento de Villaverde é inegável. Por vezes, como quando a personagem se perde na floresta, a cineasta consegue traduzir em cinema o estado de transe de Sônia magistralmente. Uma estética do estranhamento, rígida e claustrofóbica. Seu filme demanda um olhar diferente e constrói todo um universo aparentemente paralelo. “Estorvo” (2000), de Ruy Guerra, um filme que também fala sobre a perda de identidade, numa viagem trágica de paranóia filmada em primeira pessoa, me veio à cabeça. Mas Guerra tenta nos aproximar do protagonista. De fato, talvez sejamos nós, espectadores, os protagonistas. Em “Transe” isso se dá de maneira diferente.
O que me incomoda mesmo é como Sônia parece presa à preocupação formal de Villaverde. Na verdade, tenho sempre muitos problemas com a maneira pela qual alguns cineastas tratam seus personagens. Acho que algumas opções, como as que faz a realizadora portuguesa, devem ser sempre justificadas. Pelo que andou falando a cineasta, o filme estaria ligado a um aspecto de denúncia mesmo. Não seria então o caso de questionar sobre o direito que tem a diretora de entrar no país dos outros e questionar uma realidade que obviamente não é a dela? Neste sentido, lembrei-me de “Para sempre Lylia” (2002), de Lukas Moodysson. Além de abraçar o melodrama e revestir seu trabalho com muita revolta, Moodysson situa sua Suécia natal com uma enorme raiva. O filme de Villaverde não parece trazer essa mesma urgência. Do inicial deslumbramento formal, “Transe” se desmembrou numa série de questões. Por fim, fiquei sem nenhuma vontade de rever o longa. Pelo menos por enquanto.
segunda-feira, outubro 30, 2006
Red Road **

“Red road” e sua protagonista são extremamente reticentes em suas intenções. Jackie passeia por diversos estereótipos, a voyeur, a justiceira, a amante... E em sua bela interpretação, Kate Dickie permite qualquer uma dessas aproximações, apesar de não se comprometer com nenhuma delas. E aos poucos o espectador se torna refém do talento de Arnold, que encena jogando em camadas de suspeita, revelação, significação, engano, relativização, resignificação. Em determinada seqüência, Jackie vigia um casal num terreno baldio. Receosa, a personagem pensa em alertar a polícia. O casal inicial uma relação sexual, excitando a protagonista, que, por fim, reconhece, com olhos esbugalhados, uma figura de seu passado, Clyde. Cria-se um clima tenso. Um clima auxiliado pela fotografia de Robbie Ryan. Estive em Glasgow anos atrás, e é interessante como o filme mistura o vermelho das luzes, com o cinza do céu, e o verde das matas, numa coloração particular e estranhíssima, como num eterno anoitecer.
Contudo, no caminhar do longa, o uso das câmeras de vigilância que “Red road” inicialmente parecia prometer (câmera não vê coração), é esvaziado. Retorna somente sob a forma redentora, com a personagem que outrora vigiava participando da imagem vigiada. Outro grande problema são os personagens. Vistos isoladamente, fica bem difícil sustentá-los. E em algumas viradas (rigorosas na encenação, embora estranhamente soltas na narrativa) o roteiro acaba entregando ainda mais a fragilidade de suas criaturas – neste sentido, as transformações finais dos dois protagonistas parecem meio forçadas mesmo. Mas o que definitivamente incomoda é o final conciliador. É curioso como em sua dramaturgia o filme tenda sempre ao conflituoso, ao obscuro, embora não permita que o mundo em que está inserido seja definido por estes sentimentos. Entretanto, a redenção final fica parecendo quase uma pré-condição para a feitura do filme, que, por todo a sua duração, se mostrava completamente incompatível com uma “solução”.
Fica comigo ***

No filme, três histórias são narradas simultaneamente. Na principal, um homem perde a esperança depois da morte da mulher. Ao ler a biografia de uma cega surda, revelando sua coragem e vontade de viver, a vida desse homem toma novo rumo. O livro está sendo traduzido por seu filho, que durante o processo o aproxima da senhora. Na segunda, um segurança tem dois amores: a comida e uma empresária, que mora perto de seu apartamento. Na história final, duas jovens se conhecem pela internet. Uma delas, porém, abandona a outra de forma abrupta, levando esta a uma busca incansável para saber as razões do afastamento.
Com o passar do longa, percebe-se a figura da senhora cega e surda Theresa Chan, interpretada por ela mesma (o que, alias, traz um enorme frescor sempre que ela entra em cena), como o prisma por onde se alinha os personagens e todo o conceito do filme. Theresa respira um sentimento incondicional de amor pela vida – e Khoo inova pela maneira com a qual ele incorpora as legendas narrando passagens da vida da “personagem”. Contra todas as probabilidades, ela amou e foi amada. Prova viva da possibilidade do contato; e de que, pior do que perdê-lo, é perder a capacidade de acreditar nele. E quando as histórias se conectam, temos, mais uma vez, a comunicação se mostrando possível (mesmo que pelas linhas mais tortas), além de belíssimas seqüências, em especial a cena final entre Theresa Chan e o senhor que cozinha pra ela.
Contudo, para além de suas qualidades, “Fica comigo” tem outros tantos problemas. O filme tem um aspecto desconjuntado. Um filme mal vestido, com direito a algumas escorregadas no piegas. Por vezes, me pareceu simplesmente mal filmado – a cena da tentativa de suicídio, por exemplo, foi uma das que mais me incomodaram. Os flashbacks, apesar de renderem algumas belas cenas, também me pareceram desnecessários. A história envolvendo o segurança gordo rejeitado pela família é apresentada de maneira um tanto “frágil”. Mas o que me pareceu mais estranho foi a inclusão das legendas em inglês para entendermos o que fala Theresa. Um contradição na base de “Fica comigo”? Seria este um flagrante das intenções de Khoo? Sei lá...
sexta-feira, outubro 27, 2006
Explicações e Serge Daney
Estava lendo o blogue Signo do Dragão e me deparei com uma ótima notícia. Estão disponibilizando (5 euros por programa) os programas de rádio apresentados por Serge Daney, um dos maiores críticos da história do cinema. Entre os episódios disponíveis têm Jean Rouch, Philippe Garrel, Joris Ivens, Robert Kramer, Maurice Pialat, Jacques Rivette, Jacques Demy, Manoel de Oliveira, Jean-Luc Godard, Jean-Marie Straub, e Jean-Claude Brisseau. Quem tiver interesse, pode acessar o site Video On Demand. É só pesquisar no mecanismo de busca com a palavra "Microfilms". Ah... dá para ouvir fragmentos de dez minutos de cada programa.
segunda-feira, outubro 16, 2006
Os melhores de 60 (segundo eu mesmo)
1 - 2001: A Space Odyssey - Stanley Kubrick (1968)
2 - Faces – John Cassavetes (1968)
3 - Terra em Transe - Glauber Rocha (1967)
4 - A aventura - Michelangelo Antonioni (1960)
5 - O leopardo – Luchino Visconti (1963)
6 - O desprezo – Jean-Luc Godard (1963)
7 - Fellini 8 1/2 – Frederico Fellini (1963)
8 - A margem – Ozualdo Candeias (1967)
9 - Era uma vez no Oeste – Sérgio Leone (1968)
10 - Paixões que alucinam – Samuel Fuller (1963)
11 - O anjo exterminador – Luis Buñel (1962)
12 - O bandido da luz vermelha - Rogério Sganzerla (1968)
13 - Au Hasard Balthazar – Robert Bresson (1966)
14 - Crônica de um verão – Jean Rouch e Edgard Morin (1960)
15 - São Paulo S.A. – Luis Sérgio Person (1965)
16 - A hora e a vez de Augusto Matraga – Roberto Santos (1966)
17 - O ano passado em Marienbad – Alain Resnais (1961)
18 - Persona – Ingmar Bergman (1966)
19 - Lawrence da Arábia – David Lean (1962)
20 - O homem que matou o facínora – John Ford (1962)
Para fazer a seleção, acabei montando uma lista enorme de possíveis filmes... Filmes fundamentais da que talvez tenha sido a melhor década do cinema. Segue a lista abaixo. Os que estão disponíveis para locação no Brasil ganharam um *. E em itálico, os que eu ainda não vi (mas que, pelo realizador, pelo que li, e pelo que ouvi dizer, merece seu lugar na lista). Quem quiser reclamar, sugerir, recomendar, comentar...
1960
*Shadows – John Cassavetes (na cavídeo, no rio, tem)
Sangue Sobre a Neve - Nicholas Ray
Harakiri - Masaki Kobayashi
*Acossado – Jean-Luc Godard
*A aventura - Michelangelo Antonioni
*Psicose -Alfred Hitchcock
Crônica de um verão – Jean Rouch e Edgard Morin
A moça com a valise - Valerio Zurlini
*Rocco e seus irmãos – Luchino Visconti
*A doce vida – Frederico Fellini
Bells are Ringing – Vincente Minnelli
1961
*O ano passado em Marienbad – Alain Resnais
*Os desajustados – John Huston
*Yojimbo – Akira Kurosawa
Paris nos Pertence - Jacques Rivette
*Viridiana – Luis Buñuel
*O Terror das Mulheres - Jerry Lewis
1962
*Viver a vida – Jean-Luc Godard
*Lawrence da Arábia – David Lean
*O anjo exterminador – Luis Buñel
*O homem que matou o facínora – John Ford
*Hatari! – Howard Hawks
*La jetée – Chris Marker
Salvatore Giuliano – Francesco Rosi
*Pistoleiros do Entardecer - Sam Peckinpah
*O eclipse – Michelangelo Antonioni
Dois destinos – Valério Zurlini
1963
*O leopardo – Luchino Visconti
O desprezo – Jean-Luc Godard
*Fellini 8 1/2 – Frederico Fellini
*Paixões que alucinam – Samuel Fuller
*O Silêncio - Ingmar Bergman
*Os fuzis - Ruy Guerra
*Vidas secas - Nelson Pereira dos Santos
Tempestade Sobre Washington - Otto Preminger
1964
Crepúsculo de uma Raça - John Ford
A Esposa Solitária - Satyajit Ray
*O deserto vermelho - Michelangelo Antonioni
A mulher da areia - Hiroshi Teshigahara
*The Naked Kiss – Samuel Fuller
Point of Order! - Emilie De Antonio
The Battle of Culloden - Peter Watkins
*Eu Sou Cuba - Mikhail Kalatozov
*Dr. Strangelove – Stanley Kubrick
*Deus e o diabo na terra do sol – Glauber Rocha
*À meia-noite levarei sua alma - José Mojica Marins
*Noite vazia - Walter Hugo Khouri
1965
*Falstaff - Orson Welles
Bunny Lake is Missing -Otto Preminger
Pierrot Le Fou – Jean-Luc Godard
*Repulsa ao sexo – Roman Polanski
Report - Bruce Conner
Vinyl - Andy Warhol
*Doctor Zhivago – David Lean
*São Paulo S.A. – Luis Sérgio Person
*O Desafio - Paulo César Saraceni
1966
Au Hasard Balthazar – Robert Bresson
Os sem esperança – Miklós Jancsó
Grande Testemunha - Robert Bresson
*Persona – Ingmar Bergman
*Três homens em conflito - Sergio Leone
*Andrei Rublev - Andrei Tarkovsky
Inauguration of the Pleasure Dome - Kenneth Anger
A hora e a vez de Augusto Matraga – Roberto Santos
*Tokyo Drifter - Seijun Suzuki
Sete Mulheres - John Ford
1967
*Don't Look Back – D.A. Pennebaker (na cavídeo, no rio, tem)
Duas garotas românticas – Jacques Demy
*Cavalgada no vento – Monte Hellman
Mouchette - Robert Bresson
*O tiro certo – Monte Hellman
*A Bela da Tarde – Luis Buñuel
A Queima Roupa - John Boorman
Wavelength - Michael Snow
*A primeira noite de um homem – Mike Nichols
A margem – Ozualdo Candeias
*Terra em Transe – Glauber Rocha
Viagem ao Fim do Mundo – Fernando Cony Campos
*Eldorado - Howard Hawks
1968
*2001: A Space Odyssey - Stanley Kubrick
*Era uma vez no Oeste – Sérgio Leone
*A noite dos mortos vivos – George Romero
*O bebe de Rosemary – Roman Polanski
*Faces – John Cassavetes (na cavídeo, no rio, tem)
Chronicle de Anna Magdalena Bach - Jean-Marie Straub e Danièle Huille
*Teorema - Pier Paolo Pasolini
Sayat Nova – Sergei Paradjanov
Beijos Proibidos - François Truffaut
No ano do porco – Emile de Antonio
*Primavera para Hitler – Mel Brooks
*O bandido da luz vermelha - Rogério Sganzerla
*Memórias do Subdesenvolvimento - Juan Gutierrez Alea
1969
Meu Nome é Tonho - Ozualdo Candeias
*Salesman – Irmãos Maysles
*Meu Ódio Será Tua Herança - Sam Peckinpah
*Perdidos na noite - John Schlesinger
*Easy Rider - Dennis Hopper
*Macunaíma – Joaquim Pedro de Andrade
*O anjo nasceu - Júlio Bressane
Hitler, Terceiro Mundo - José Agripino de Paula
*Matou a família e foi ao cinema - Júlio Bressane
quinta-feira, outubro 12, 2006
Fonte da vida °

Em “Fonte da vida” temos três histórias em paralelo, todas vividas pelos mesmos atores, Hugh Jackman e Rachel Weisz. A mulher do pesquisador Tommy Creo está morrendo de cancêr, e ele busca desesperadamente a cura que pode salvá-la. Mas caso não consiga, a arte talvez possa. Ele terá de completar o livro que sua mulher deixou incompleto, sobre um cavaleiro espanhol que foi à América Central em busca de árvore da juventude. Na terceira subtrama, com contornos filosóficos-religiosos bem baratos, temos um ser numa bolha vagando pelo espaço e adorando a tal árvore da vida.
Enfim, dessa vez, Aronofsky está pedindo demais. Em primeiro lugar, a emoção exagerada nunca é compartilhada pelo espectador. Em segundo lugar, além de um tom um tanto brega, temos efeitos (o que mostra tudo de cabeça para baixo e depois dá um 180º para voltar ao normal já entrou para história) que nunca dizem exatamente ao que vieram. Em terceiro lugar, a trama nunca se harmoniza, a não ser sob uma perspectiva metafísica fácil. Em quarto lugar, “florestas” da Espanha e “selvagens pagãos” é a puta-que-o-pariu. “A fonte da vida” é um enorme blefe, um produto calculadamente disfarçado por trás de uma idéia supostamente culta e inteligente.
terça-feira, outubro 10, 2006
O crocodilo ***

Em “O crocodilo” percebemos mais uma vez o interesse de Moretti na idéia de um caminho a ser percorrido. Os personagens estão sempre em meio a mudanças incontornáveis, sempre em movimento. Dessa vez, combinando três linhas narrativas (o drama familiar do protagonista, o ataque frontal ao ex-primeiro ministro da Itália, e a tentativa de se fazer um filme sobre Berlusconi), Moretti divide seu tempo entre o melodrama e o panfleto. O mais curioso é que a ponte a ligar estas duas dimensões é o humor. E nessa passagem, alternado um tom banal e um tom austero, o cineasta italiano dá mostras de sua capacidade em combinar o itinerário individual com a crítica social e política.
Mas apesar do humor, “O crocodilo” é irônico ao ponto da amargura. Como bem definiu o Filipe Furtado, não se trata de um filme sobre o Berlusconi, mas sobre a Itália de Berlusconi. Uma Itália doente, em estado de decomposição; ilustrada pela falência múltipla de Bruno, e simbolizada pela figura de Berlusconi. Em Cannes, Moretti falou o seguinte: "Não acho que meu filme tenha perdido atualidade simplesmente porque Berlusconi não está mais no governo. Acredito que a coisa não mudou, já que, pela primeira vez na história de uma democracia, o candidato perdedor não admitiu sua derrota, atribuindo-a à fraude eleitoral e criando em seus eleitores uma sensação de roubo de seu voto que continuará criando o ódio entre as duas Itálias".
Fica, entretanto, uma questão que ainda não sei como responder. Pedro Butcher disse numa pequena nota para a "Cinética" que em “O crocodilo” Moretti tratava seu protagonista com um certo preconceito. Se no início do filme, esta observação me parecia totalmente descabida, saí da sessão com uma enorme pulga atrás da orelha. Moretti trata os filmes de Bruno como se fossem coisa de criança, como se só crianças pudessem gostar deles. E num determinado momento, o personagem confessa que realizou “filmes fascistas”. Mesmo nas críticas em que li sobre o filme, escrevem que Bruno produzia longas vagabundos. Como assim? Em “O crocodilo”, o cinema de Bruno é um cinema alienado, está do lado oposto do cinema que intenciona Teresa. O filme de Moretti, que começa com uma seqüência de um dos filmes de Bruno e termina com uma cena do longa de Teresa, poderia ser entendido como o percurso do personagem em direção a um cinema supostamente mais relevante. Não sei... terei de ver o filme novamente.
Exiled *****

To está definitivamente entre os melhores realizadores de gênero hoje no mundo. No entanto, ele figura neste top como um desconstrutor um tanto burlesco. “Exiled” é filme de gêneros. Dois gêneros, para ser mais exato. O longa parece um trabalho de fim de curso sobre o western spaghetti sob a perspectiva dos filmes policiais de Hong Kong dos anos 90. O tema Sam Peckinpahniano, o movimento matemático-cinético de Tsui Hark e Jonh Woo, e o revestimento épico (trilha e espaços, alguns desérticos) à la Sergio Leone, se fundem numa unidade indefinida.
E To parece ainda mais desenvolto por aqui, arrastando um tom tenso por todo o longa, e explodindo, vez por outra, em seqüências de ação magistrais. Num tom operístico, To dirige com a autoridade de um mestre Zen. Tempos mortos convivem com um quadro em constante instabilidade - os elogios devem ser estendendidos ao exímio trabalho de Chen Siu-keung (fotógrafo) e David M. Richardson (montador). “Exiled” é um deleite estético que só o cinema pode gerar.
Duas notinhas
A Mostra de São Paulo divulgou uma pequena lista dos filmes que já foram confirmados. Entre eles, uma penca de imperdíveis que não passaram pelo Rio. Olhem só:
Still Life (Jia Zhang-ke)
The Sun (Alexandr Sokurov)
Syndromes and a Century (Apichatpong Weerasethakul)
Serras da Desordem (Andrea Tonacci)
Mary (Abel Ferrara)
I Don't Want to Sellep Alone (Tsai Ming-liang)
Dong (Jia Zhang-ke)
Fica Comigo (Eric Khoo)
Belle Toujours (Manoel de Oliveira)
Transe (Teresa Villaverde)
A Mostra começa no próximo dia 20 e vai até 2 de novembro (por lá também há repescagem, começando na sexta 3). Quem for, não se arrependerá.
segunda-feira, outubro 09, 2006
Eu me lembro ***

Apesar de termos um fio condutor narrativo, trata-se de um filme “solto” que mais parece uma associação livre de idéias e situações. Em “Eu me lembro”, Navarro “perturba” mais do que rejeita os protocolos e convenções cinematográficas. Ao invés de romper com as regras que garantem a consistência de um espaço-tempo narrativo, como em seus trabalhos anteriores, o diretor baiano subverte ao exibir lacunas e fissuras em seu ilusionismo (há um complexo trabalho na faixa sonora). Em “Eu me lembro”, sob o signo de sua própria biografia e das mais diversas influências cinematográficas (“Anjos do Arrabalde”, “Meteorango Kid, o herói intergalático”, e, sobretudo, Fellini), Navarro permanece sendo um organismo estranho em nosso cinema.
“Amarcord” (1974) certamente virá à lembrança, mas a associação pura e simples ao longa de Fellini é até irresponsável. O conflito em ambos os longas é o mesmo: entre o realizador e suas memórias. No entanto, em “Eu me lembro” há um olhar irônico, de uma consciência sempre presente da tragicidade da existência. O tempo em seu fluxo é capaz de exterminar quaisquer esperanças (a cena em que a doméstica é entregue a um asilo é particularmente bonita). Talvez o filme de Fellini que nos traga maiores e melhores aproximações seja “8 ½” (1963). Além de Navarro prestar uma homenagem à última seqüência do filme, com os personagens (na verdade, a lembrança que o protagonista tem deles) presentificados numa ciranda imaginária, “Eu me lembro” também é um trabalho sobre a memória. Muitas memórias dormem em Guiga, boas e ruins, de todos os gêneros. Por vezes, tais lembranças despertam inesperadamente, vagueiam solitárias, ou dão início a um diálogo em voz alta. Guiga não consegue silenciá-las, tornar-se senhor dessa orquestra. Eis que decide comprar uma câmera Super 8mm. O que lhe resta é a possibilidade de nos deixar, nos transmitir, nos legar, através do cinema, suas esperanças, suas alegrias, seus medos, sua dor...
Assistir “Eu me lembro” é uma experiência essencialmente emotiva. O filme gera um alto grau de identificação. Numa primeira visão, é difícil ultrapassar essa fronteira. No entanto, é possível detectar uma série de problemas. Temos muitos clichês; a narração retroativa e onisciente parece antecipar os acontecimentos, sugando energia das seqüências; o filme perde um pouco de sua força em seu ato final; por vezes, parece que Navarro não dá conta de suas ótimas intenções; e, em certos momentos, é visível o fato de o filme ter permanecido por longos anos em produção. Não há como disfarçar uma ponta de decepção, embora eu tenha me emocionado bastante durante o longa.
Gabrielle **

Chéreau já havia demonstrado seu interesse por relações que se sustentam sem amor. Mas em “Gabrielle”, cria-se o inferno conjugal. O cineasta explora um casamento em que mesmo a promessa de prazer sexual deixou de existir. E Chéreau nunca foi tão cruel. O filme começa lindamente, com muitas promessas. Temos a câmera viva de Eric Gautier (câmera de gente como Olivier Assayas e Arnauld Desplechin) que parece nos apontar para o filme como a soma de determinadas impressões físicas. Gautier cola no corpo de Jean e Gabrielle em belo Cinemascope. Somam-se as impressionantes atuações de Huppert e Greggory. Outro ponto positivo (talvez um dos poucos a serem confirmados ao longo do filme) é o fato de “Gabrielle” não funcionar exatamente sob uma interpretação unicamente feminista. Gabrielle é vítima de seu tempo, mas em nenhum momento clama por nossa simpatia ou cumplicidade. Muito pelo contrário.
No entanto, com o passar dos planos, “Gabrielle” não cumpre tais promessas e se esvazia em seus excessos. Em primeiro lugar, Chéreau me incomodou muito por uma certa obsessão em se mostrar "autor", jogando na tela imagens pretensamente poéticas, trocando constantemente do colorido para o preto-e-branco, e injetando sobre a imagem frases escritas, sempre de maneira quase aleatória. Em segundo lugar, o longa peca pelo excesso da palavra. Apesar da ênfase na psicologia dos personagens, não há o não dito por estas bandas. Nada está imune ao duelo retórico entre Jean e Gabrielle. No fim das contas, “Gabrielle” se revela um filme chato, muito chato. Por vezes, tenho a impressão de que Chéreau parece estar tentando se afastar de seu passado no teatro e na opera... talvez. Talvez o filme tenha desando ao longo dessa tentativa. Por pouco, o cineasta não rouba a cena de seus atores, o que “Gabrielle” tem de melhor.
sábado, outubro 07, 2006
Flandres *

No longa, Dumont nos mostra a vida numa vila rural no norte da França. Barbe (Adélaïde Leroux), a ninfomaníaca do lugar, namora o jovem fazendeiro André (Samuel Boidin). Ela não é bem vista na comunidade, o que leva Andre a negar o namoro em uma roda de amigos. Barbe se vinga flertando com Blondel (Henri Cretel). Pouco depois, Andre e Blondel são convocados para uma guerra distante (a qual Dumont não especifica). Os dois passam a integrar um pequeno núcleo de combatentes em ação no deserto. E lá, veremos as cenas chocantes de sempre. Atos de brutalidade e bestialidade pontuam “Flandres”. Minha impressão é a de que os saldados foram treinados unicamente em técnicas de estupro e caos indeterminado, como apontam algumas cenas em que parece ser impossível transformar o nível de insensibilidade, indiferença e abstração dos personagens e do universo de Dumont.
Trabalhando de maneira paralela, entre o campo verde de Flandres e a secura da guerra no deserto, Dumont filma tudo a partir de uma lógica mecânica e desprovida de quaisquer significados ou sentimentos. Para os personagens, transar, matar, estuprar, brigar, trabalhar... dá no mesmo. E em comparação as cenas de guerra, as seqüências que se passam na cidade de Flandres (habitada, pelo que parece, exclusivamente por neanderthals perdidos no tempo) são ainda dramaticamente mais esquemáticas, com uma enorme obsessão em demonstrar os instintos mais animais e “primitivos” do homem. A direção de Dumont impressiona mais uma vez pelo supremo controle. No entanto, ele me parece esquemático e negligente no que diz respeito a ação central do filme. Dumont é um descrente confesso. E agora, parece desandar em direção a uma espécie de missão anti-humanitária.
The host ***

“The host” é um filme de gênero. Mas talvez seja mais preciso acrescentar um “neo” ou um “pós” ao termo. Pois Bong trabalha nas fronteiras internas do que seria um filme de gênero, nos apresentando um formato deliciosamente esquizofrênico, indo do melodrama à ficção política, do thriller de horror à comédia fantástica, sem nunca perder o controle. Esse hibridismo desconcertante é próprio do nosso tempo. Talvez seja mais exato defini-lo como um filme-experiência de gênero. O cineasta está claramente interessado na experimentação cinematográfica (montagem, mise-en-scène, enquadramento, direção de atores), e nos impressiona pela ousadia de estilo. Por vezes, em cenas como a tentativa de fuga da menina e a ação do filho caçula com bombas caseiras contra o monstro, Bong intervém no ápice da tensão, inserindo detalhes (ora cômicos, ora contemplativos) em ritmo lento. “The host” é o maior entretenimento.
Mas não se engane. Este é um longo essencialmente político. Do prólogo à última seqüência e sua atmosfera contaminada pelo agente laranja, Bong pontua “The host” com algumas estocadas políticas, que, pela forma como são feitas, apontam para deliberada intenção política de seu trabalho. Na verdade, o filme é baseado num caso verídico que levou um americano a ser processado por ordenar o despejo de produtos químicos no rio a um subordinado coreano. E os americanos são pintados aqui como os mais agressivos exportadores de incompetência burocrática e desinformação. Eles decidem que o governo coreano é incapaz de lidar com a situação e se sentem obrigados a intervir, vendendo uma arma química ainda experimentação (o tal agente laranja), e realizando inúmeros testes em cidadãos que poderiam ter contraído um suposto vírus. Cenas mais tarde, um oficial americano confessa não ter encontrado o tal vírus em nenhuma das pessoas que foram apreendidas (e eventualmente mortas em decorrência dos exames para detectar e erradicar a doença), mas conclui que o vírus poderia estar escondido na cabeça da vítima e ordena a operação. Qualquer semelhança com a busca pelos mísseis de destruição em massa não é mera coincidência. Filmaço.
ps: Pelo que sei, “The host” ainda não foi comprado por aqui. Mas, segundo o João F. de Marcelo Mattos, do Almanaque Virtual, “Memórias de um assassinato”, segundo filme do cineasta coreano, está saindo em DVD no Brasil.
sexta-feira, outubro 06, 2006
Repescagem
Sexta, 6
13h: "Cidadão Duane", de Michael Mabbott.
15h15: "Admiração mútua", de Andrew Bujalski.
17h30: "Verão em Berlim", de Andreas Dresen.
19h45: "A rainha", de Stephen Frears.
22h: "Vagas estrelas da ursa", de Luchino Visconti.
Sábado, 7
13h: "Quando eu era cantor", de Xavier Giannoli.
15h15: "Estamos bem mesmo sem você", de Kim Rossi Stuart.
17h30: "Madeinusa", de Claudia Llosa.
19h45: "Puccini para iniciantes", de Maria Maggenti.
21h30: "Os deuses malditos", de Luchino Visconti.
Domingo, 8
13h: "El Topo", de Alejandro Jodorowsky.
15h: "Man push cart", de Ramin Bahrani.
17h15: "Milarepa", de Neten Chokling.
19h45: "Um longo caminho", de Zhang Yimou.
22h: "Um rosto na noite", de Luchino Visconti.
Segunda, 9
13h: "Tão perto e tão distante do amor", de Hermine Huntgeburth.
15h30: "Uma simples curva", de Aubrey Nealon.
17h30: "Um casal perfeito", de Nobuhiro Suwa.
19h45: "Azul escuro quase negro", de Daniel Sánchez Arévalo.
21h45: "Violência e paixão", de Luchino Visconti.
Terça, 10
13h: "Fui!", de Miguel Albaladejo.
15h15: "Tudo que você queria saber sobre Robert Wilson", de Katharina Otto-Bernstein.
17h30: "Princesas", de Fernando Léon de Aranoa.
19h45: "Terra congelada", de Aku Louhimies.
Quarta, 11
13h: "Destricted - 7 Vezes erotismo", de Marina Abramovic, Matthew Barney, Marco Brambilla, Larry Clark, Gaspar Noé, Richard Prince e Sam Taylor-Wood.
15h15: "Um casal perfeito", de Nobuhiro Suwa.
17h30: "Bem-vindo à casa", de David Trueba.
19h45: "Sem gás, sem rumo", de Bülent Akinci.
21h45: "Sedução da carne", de Luchino Visconti.
Quinta, dia 12
13h: "Na sombra das palmeiras do Iraque", de Wayne Coles-Janess.
15h: "Irã - Uma revolução cinematográfica", de Nader Takmil Homayoun.
17h: "The refugee all stars", de Zach Niles e Banker White.
18h45: "Garotinho bobo", de Pierre Chatagny e Natacha Koutchoumov.
20h45: "O leopardo", de Luchino Visconti.
quarta-feira, outubro 04, 2006
O passageiro – segredo de adultos **

Em “O passageiro”, Tambellini reforça sua capacidade como cronista urbano, explorando a cidade do Rio de Janeiro como uma espécie de décor vivo. E em relação a seu primeiro filme (“Bufo e Spallanzani”, de 2000), percebemos uma série de evoluções em termos de mise-en-scène, e uma atenção redobrada ao detalhe como fato de caracterização dos personagens. Antônio, o jovem protagonista vive numa absoluta confusão diante da enorme quantidade de decisões e relações pessoais com as quais ele se vê obrigado a lidar. Não sei se Tambellini tem filhos, mas “O passageiro” por vezes parece querer entender esse universo jovem. E o faz de maneira generosa, sem condescendência ou acusações, libertando os adolescentes das amarras da “Malhação”. E o que torna “O passageiro” ainda mais importante é o fato da câmera estar apontada para uma classe alta, geralmente ausente no cinema brasileiro.
No entanto, o filme desanda toda vez que tenta imprimir suspense na trajetória de redescoberta do pai por parte do protagonista. Aqui a trama segue previsível e um tanto fora de ritmo. Os personagens vividos por Carolina Ferraz e Othon Bastos também me parecem meio tortos. Estão ali somente para remendar as viradas narrativas, que, aliás, são, em alguns momentos, muito mal explicadas. No fim das contas, fiquei com a impressão de que existe em “O passageiro” uma obra carinhosa disputando espaço internamente com outra. Dois longas brigando agressivamente entre si.
Atos dos homens ***

Nesta espécie de prólogo, Goifman dá mostras de seu enorme talento. Sinceridade, simplicidade e uma ótima estrutura. “Ato dos homens” talvez seja mesmo seu filme mais “careta”, trazendo, por vezes, uma lógica jornalística para o documentário. Num primeiro momento, temos os moradores da Baixada falando sobre seus respectivos municípios, destacando suas vantagens e desvantagens. No segundo bloco, os depoimentos são direcionados mais especificamente para a chacina. Talvez o filme perca um pouco de sua força pelo excesso de depoimentos - além do que, as entrevistas (talvez pelo teor delas) são levadas de maneira, digamos, “convencional”, sem intervenções da parte do realizador. Na verdade, Goifman parece experimentar e acaba nos contaminando por um profundo mal-estar. “Atos dos Homens” é um filme cheio de riscos, em que o olhar, para além das entrevistas, parece interditado.
Entretanto, o cineasta retorna um tanto radical nas entrevistas com justiceiros e parentes de vítimas da chacina. Esses depoimentos surgem como vozes em off sobre uma resplandecente tela branca. Goifman se recusa a nos oferecer imagens. E o que talvez tenha nascido simplesmente por um compromisso ético, acaba engrandecendo o filme. O espectador, cegado pelo vazio branco da tela, testemunha pelo ouvido e pensa nas imagens. Para além de sua urgência e irregularidade, “Ato dos homens” se transforma nestes instantes numa experiência audiovisual daquelas.